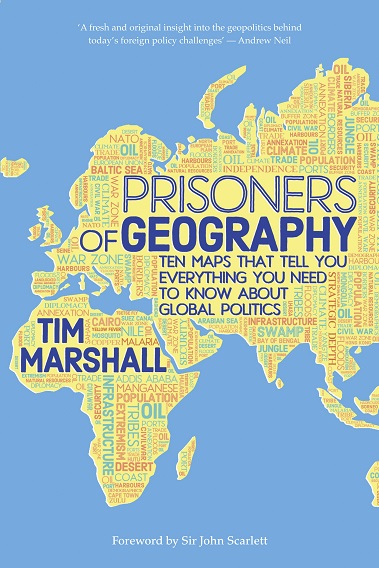É bem conhecido, enquanto imagem literária, o Rio das Pérolas. Lembremos um livro, Chü Kóng, de Maria do Rosário Almeida (Macau: Instituto Cultural, 1987) e até na crítica, o mais recente Delta Literário de Macau, de José Carlos Seabra Pereira (Instituto Politécnico de Macau, 2015). Basta estes dois para mostrar que se trata de uma imagem recorrente e que parece remeter mais para uma tradição lírica local do que para a mais recente noção de Grande Baía, apesar de a poesia em língua portuguesa de Macau procurar também já responder a este constructo geopolítico (António Duarte Mil-Homens, por exemplo). Poderíamos talvez concluir que há menos renovação do que um uso recorrente de certas imagens na poesia de Macau escrita em língua portuguesa. E esta é uma antologia, publicada no território, que dá precisamente um certo ponto da situação – em 2019 – da poesia de e sobre Macau produzida em português.
Por falar em pérolas, na p. 28, encontramos logo o simpático destinatário dos evangelhos (Mateus 7: 6), digerindo tudo o que encontra num curioso soneto de Ana Cristina Alves: “Ser porco gordo e saboroso/ É o destino derradeiro/ De quem no nosso mundo/ Come primeiro” (p. 28). Não querendo ser chinês, é talvez o poema mais involuntariamente chinês de todos. Lembra-nos as saudáveis comezainas de António Manuel Couto Viana, os seus inesquecíveis e inteligentes poemas sobre a mesa sínica (e cínica). Mas lembra-nos também a fúria de comer e de todo ser comido que agita o chi da culinária chinesa. O nosso destino de leitores também é comer e sermos comidos: mas uma dieta que há-de ser composta de letras, sinais, versos, poemas.
Depois de um texto do coordenador, o poeta António M. R. Martins, que tem o condão de, em poucas linhas, conseguir dizer pouco mais que nada, o prefácio de Ana Paula Dias encontra propósito e dá consistência teórica ao que seria um esforço circunstancial de congregação de poetas de língua portuguesa. É também, por isso mesmo, um status quaestionis que nos permite ver o tom do discurso hoje aceitável para a crítica no que toca ao lugar da poesia de Macau escrita em língua portuguesa.
Há uma saudável inclusão dos tópicos da multiculturalidade no discurso crítico produzido em torno dessa literatura, atestando a superação definitiva do velhinho discurso do “encontro de culturas”, que ninguém tem coragem para colocar. Sabe-se agora que não há nenhum encontro, mas sim convivência inteligente de vontades paralelas, com ocasionais cruzamentos: “apesar de autónomas, as culturas presentes na região entrecruzam-se” (p. 23). Quer dizer, há sempre encontro dentro do permanente desencontro que é Macau.
O tom da crítica, que de alguma forma encontramos representado neste prefácio, é agora o da salvaguarda da multiculturalidade. Contudo, essa multiculturalidade continua a não deixar de ser uma representação – ainda que mais cuidadosa – de um outro que agora sabemos que é mesmo um outro, com direito a sê-lo. Trata-se sempre da representação que os poetas portugueses e de língua portuguesa fazem de Macau, da China e da cultura chinesa, uma vez que não existem aqui (pelo menos não neste livro) poetas filipinos, indonésios ou chineses que deem outro tom, outro lado da moeda ou mesmo (se quisermos) uma resposta. Diz a autora: “no processo de confronto com o outro e com a diferença, no embate com a exclusão ou com a aceitação da alteridade, o sujeito pode conhecer-se melhor” (p. 24). Num discurso que pretende ser o reverso programático do exotismo, a crítica acaba, contudo, por colocar um piedoso véu sobre o neo-exotismo de vários poetas reunidos nesta antologia, até porque nunca saímos realmente da questão da representação do outro; onde este, como dizia Karl Marx, involuntariamente citado por Edward Said, não se representa, é sempre representado.
Mas de facto, Macau é a sombra que perpassa nestes poemas e o lugar de onde se vê o mundo, ou pelo menos uma pequena fatia dele. Se alguns destes autores não conseguem (mesmo em 2019) sair de um patusco exotismo memorialista, um ou outro usa mesmo os recursos vocabulares do cantonês entre aspas mais anedoticamente conhecidos (pangiao, fan-tan), para dar conta desse exótico, como se estivéssemos a ler um poeta publicado pela Agência Geral do Ultramar, activa até 1974. O poema é aqui um mero elenco de curiosidades e afectos, o que diz muito sobre o que fomos fazendo no Oriente, mas também no Ocidente, seja lá onde isso for: “jogava-se fan-tan na amurada, / à sombra da frondosa moraceae; praticava se tai-chi/e a amizade fluía por ideia” (António Correia, 33). Outros, sem propriamente o fazerem, como Mil-Homens, ainda assim ressumam um certo exotismo: “Quantos tempos, / Quantos gongos/ Desta Macau/ Com seus pombos, / Seus pardais/ Suas rolas/ Nos varais/ Onde secam/ tantas roupas”.
Como sabemos, ler má poesia pode ser extremamente útil, porque nos devolve com clareza a ideologia e os tópicos que dominam, neste caso, a escrita de um lugar e de uma determinada época: Macau no início deste século. Esta antologia cumpre um pouco esta importante função, mas vai além disso. Afinal, estão aqui também os poetas que nos habituámos a reconhecer com os mais representativos da atual poesia de Macau em língua portuguesa: Carlos Morais José, Dora Nunes Gago, Fernanda Dias, entre alguns outros. É sobretudo nestes poetas que encontramos a densidade de tom, de pensamento e do dizer que esperamos da boa poesia e uma visão que de facto cumpre o que diz o prefácio sobre os poetas que tomam Macau como lugar de observação do mundo. Diz Fernanda Dias: “Assim como estas ruas e praças/ da cidade tristíssima e soberba/ prenhe de memórias desprezadas/ a rebentar pelas costuras delidas/ como uma velha cabaia de renda/ no corpo da matrona nova-rica” (p. 61). E sabiamente, na sua voz encontramos também uma resposta a todos os projectos exotistas, na voz que de quem já foi muito para além deles e os consegue ver de fora: “Neste mercado orquídeas e rouxinóis/ não são rimas exóticas para papel couché/ caro aos poetas amantes do Oriente”. Mas é Fernando Sales Lopes que, a este respeito, coloca a pergunta mais importante e desestabilizadora: “Onde o Oriente/ quando estamos no Oriente?”. É uma tradição de resposta ao poema Opiário de Álvaro de Campos, com o seu “E eu vou buscar ao ópio que consola. / Um Oriente ao oriente do Oriente”, que por sua vez já era uma resposta a estes versos d’Os Lusíadas: “Os Portugueses somos do Ocidente,/ Imos buscando as terras do Oriente”.
Mas é interessante ver como as mudanças que a pandemia e a política de gestão nos distanciam já desta busca, fazendo com que a perspectiva que tem vindo a ser canónica para definir a literatura de Macau em português entre em perigo pelo facto de desde 2019 tudo ter já mudado: “Nesta antologia (…) é apresentada poesia contemporânea escrita em língua portuguesa, parte dela inédita, produzida em Macau ou intimamente interligada com a estadia dos autores na região” (p. 23). E uma coisa muito importante e rara a esse respeito – e que me parece ser o trunfo deste livro em particular – é que temos aqui também autores brasileiros, moçambicanos e guineenses, que passaram por Macau no festival literário Rota das Letras.
Tem sido assim até aqui, de facto, como Ana Paula Dias descreve: poesia produzida na região intimamente ligada à estadia dos autores. Mas estremecemos um pouco ao ler aquelas linhas, porque sabemos que o desbaste na comunidade portuguesa terá efeitos que não podemos prever na continuidade (ou não) da literatura em língua portuguesa de Macau. É possível que os danos na instituição literária, por sua vez muito dependente das instituições públicas e privadas que ligam Macau a Portugal, possam ter trazido a morte desta tradição literária. Sendo assim, Macau no futuro próximo seria como Goa, em que as letras portuguesas foram relegadas para os arquivos, como se fossem os velhos livros das monções. Mas num lugar de tão frágeis e surpreendentes equilíbrios é difícil saber. Há que deixar passar alguns anos ou algumas pérolas por esse rio abaixo.